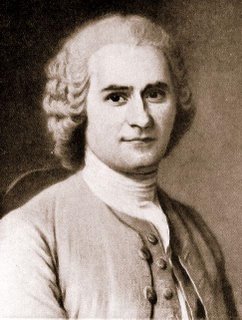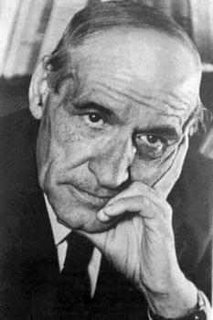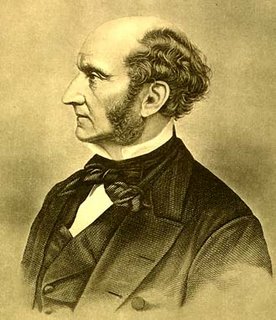A França dos revolucionários é bem conhecida, assim como todos os altíssimos ideais que teriam, supostamente, posto um fim ao
ancien régime e dado início a uma era de igualdade e esclarecimento político. A França de Edmund Burke já é um tanto diferente e, talvez por isso mesmo, menos conhecida, apesar de guardar com a realidade (a realidade de até então, 1790, e também a dos anos seguintes) uma similitude assombrosa. Conor Cruise O'Brien, estudioso (também irlandês) autor da introdução de 80 páginas ao volume das
Reflections on the Revolution in France da Penguin, afirma que, até hoje, é erro comum entre
undergraduates achar que Burke teria escrito seu livro depois de a última cabeça antipática aos ideais revolucionárias ter rolado. Muito pelo contrário, foi publicado em novembro de 1790, período relativamente calmo, quando o Terror e as deliberações facinorosas de Robespierre e congêneres ainda estavam por acontecer.
Há, em primeiro lugar, especulações quanto aos motivos da fúria de Burke: muitos vêem inconsistência no fato de ele ter sido favorável à revolução norte-americana e opositor obstinado da francesa. Outros, como Marx (em nota no seu
O Capital), achavam que Burke buscava apenas defender o interesse da ordem estabelecida na Inglaterra, da qual era membro relativamente ilustre. Essa suspeita foi avivada quando passou a receber um estipêndio anual graças ao seu livro, mas O'Brien mostra, sem muita dificuldade, que essas e outras acusações são infundadas. Uma leitura mais detida mostra que o discurso (e a virulência) de Burke ataca não só as novidades francesas, mas, de certa maneira, também algumas das mais sólidas convicções britânicas, o que levou Mary Wollstonecraft a afirmar que, se tivesse nascido sob as circunstâncias convenientes, ele teria sido um modelo de revolucionário!
Há quem diga, também, que as imprecações de Burke são mais consequência de uma natureza imaginativa e exagerada que de uma real apreciação dos fatos. Ora, está claro que ele não ignorava a importância de procedimentos tipicamente panfletários; há momentos, acreditava ele, em que moderação no discurso é exatamente o que o adversário mais deseja:
The calm mode of Enquiry would be a very temperate method of our losing our Object; and a very certain mode of finding no calmness on the side of our adversary. Our being mobbish is our only chance for his being reasonable.
Tampouco seria muito sensato creditar todo o esforço de Burke a uma tática cuidadosamente planejada. Aborrecia-o principalmente os ingleses que flertavam abertamente com a idéia de importar as novas idéias do continente, concentrados em especial na
Revolution Society; de tal maneira que seu
Reflections é antes uma defesa da constituição inglesa que um ataque às excentricidades francesas, apesar de ambos os fins serem, muitas vezes, perseguidos simultaneamente.
Revoltava-o acima de tudo a tranquilidade com que os revolucionários se arvoraram à posição de destruir toda uma tradição política construída até então, ignorando solenemente todo e qualquer ensinamento que pudesse ser aduzido do legado de seus ancestrais (
People will not look forward to posterity, who never look back to their ancesters). Parece fazer parte de nosso senso comum exigir que esse tipo de confiança venha acompanhada de nada menos que a mais brilhante inteligência - já que pretende sustentar-se exclusivamente por si mesma -, sob o risco de passar por capricho de gente presunçosa e amalucada. Burke, cujo
motto, tão insistentemente lembrado, é
mudar para preservar, mal pode esconder sua aversão ante a facilidade com que muitos franceses viraram as costas para o passado. Se é certo que na coroa francesa havia muito a ser corrigido, há um salto lógico que deixaria Aristóteles tonto em supor que só se poderia corrigi-la através de sua total destruição, com o agravante de querer suplantá-la com instituições igualmente ou até mais arbitrárias que as que acabaram de ser rechaçadas. Burke contrapõe esse comportamento destrambelhado à idéia que faz do governo inglês:
Our political system is placed in a just correspondence and symmetry with the order of the world, and with the mode of existence decreed to a permanent body composed of transitory parts; wherein, by the disposition of a stupendous wisdom, moulding together the great mysterious incorporation of the human race, the whole, at one time, is never old, or middle-aged, or young, but in a condition of unchangeable constancy, moves on through the varied tenour of perpetual decay, fall, renovation, and progression. Thus, by preserving the method of nature in the conduct of the state, in what we improve we are never wholly new; in what we retain we are never wholly obsolete.
Depois de fazer uma análise geral do temperamento revolucionário, Burke prossegue mostrando que, diferentemente do que se esperava (dada a arrogância com que ascenderam), os novos detentores do poder estão longe da idealidade que prometeram trazer. Seja por ignorância (para Burke, essa era a hipótese menos provável), fanatismo ou má-fé, o certo é que os procedimentos da Assembléia Nacional fizeram pouco pelo bem e muito pelo mal do povo francês: há análises detalhadas das medidas tomadas pela assembléia em áreas tão variadas como as finanças, a economia especulativa (Burke previu que a desapropriação das terras da Igreja transformaria a França num paraíso dos especuladores), a hierarquização administrativa e as forças armadas (Burke previu, dessa vez com uma precisão assombrosa, que a ausência de uma autoridade fixa levaria à ascensão de uma figura suficientemente inteligente e carismática que, aproveitando-se da fragilidade política do país, dominaria não só as forças armadas como toda a nação: Napoleão chegou ao poder dois anos depois de sua morte), e as poucas vantagens que delas admite advir lhe parecem meramente conjunturais. Está claro que, quando se destrói todo um governo, destrói-se também o que havia de ruim nele. Infelizmente, isso não é algo de que possamos nos gabar, principalmente quando, juntamente com os erros, encontramos, nos escombros do que já foi derrubado, o próprio mecanismo que possibilitaria a supressão desses erros sem que se fizesse necessária a destruição total.
É possível, aqui também, encontrar as contradições típicas de todo governo que pretende representar os interesses populares. No post sobre Chesterton (Chesterton que, aliás, deve muitas de suas tiradas em defesa ao conservadorismo a Burke), cito uma passagem que se refere rigorosamente à mesma idéia aqui tratada por Burke:
You will smile here at the consistency of those democratists, who, when they are not on their guard, treat the humbler part of the community with the greatest contempt, whilst, at the same time, they pretend to make them the depositories of all power.
E, se na época em que o livro foi publicado muitos se sentiram impelidos a achar que Burke exagerava em suas acusações, os acontecimentos dos anos seguintes desmentiram-nos com grande eloquência. É curioso observar (e isso é perceptível graças às notas explanatórias) que muitos dos primeiros defensores da revolução atacados por Burke foram mais tarde guilhotinados. Ora, se foi esse o tratamento dispensado àqueles que concordavam com o breviário insurrecional (pelo menos em sua versão mais moderada), o que dizer daqueles que foram doudos a ponto de declarar-se sumariamente avessos a ele? Burke declarou-se sumariamente avesso, mas porque havia alguns quilômetros de água entre ele e a costa francesa. Graças a essa distância, pudemos herdar, sem maiores prejuízos para o seu pescoço, o registro de seu ideal de homem político:
A disposition to preserve, and an ability to improve, taken together, would be my standard of a statesman. Every thing else is vulgar in the conception, perilous in the execution.
 Final de semana na praia. Naturalmente, não na praia acima, que a rigor não existe. Mas aproveito a oportunidade para confessar-me fascinado pelo mar, apesar de vê-lo somente em intervalos cada vez mais distantes entre si. Esse fascínio chega a mim através de figuras como Conrad, Coleridge, Melville e Poe e permanece, insisto, intacto. Como todo sujeito sem imaginação e com um mínimo de bom senso (assim espero), não me aventuro a expor uma versão propriamente minha dessa atração. Há alguns anos, frequentei um curso de literatura chamado A Sea of Words, onde se lia desde Coleridge até... não lembro o nome, mas o que importa é que é péssimo. Muito já foi dito sobre as armadilhas, para o escritor, da narrativa erótica. Um pequeno descuido e já passamos para campo do ridículo. Troquem a mulher (ou o que quer que sirva nos dias que correm) pelo mar e adentramos uma seara não menos perigosa, da qual, aliás, já foram vítimas o nosso Carpeaux (que obviamente não era nenhum mestre do estilo mas que nada obstante não era dado a escorregões), Stephen Crane e, em alguns raros momentos, o próprio Conrad. Faço o favor de partir para algo que nada tem que ver com descuidos, a saber, um trecho da Rime of the Ancient Mariner, do Coleridge, em que o Albatroz dá início a sua singela vingança (a íntegra pode ser encontrada com facilidade na web):
Final de semana na praia. Naturalmente, não na praia acima, que a rigor não existe. Mas aproveito a oportunidade para confessar-me fascinado pelo mar, apesar de vê-lo somente em intervalos cada vez mais distantes entre si. Esse fascínio chega a mim através de figuras como Conrad, Coleridge, Melville e Poe e permanece, insisto, intacto. Como todo sujeito sem imaginação e com um mínimo de bom senso (assim espero), não me aventuro a expor uma versão propriamente minha dessa atração. Há alguns anos, frequentei um curso de literatura chamado A Sea of Words, onde se lia desde Coleridge até... não lembro o nome, mas o que importa é que é péssimo. Muito já foi dito sobre as armadilhas, para o escritor, da narrativa erótica. Um pequeno descuido e já passamos para campo do ridículo. Troquem a mulher (ou o que quer que sirva nos dias que correm) pelo mar e adentramos uma seara não menos perigosa, da qual, aliás, já foram vítimas o nosso Carpeaux (que obviamente não era nenhum mestre do estilo mas que nada obstante não era dado a escorregões), Stephen Crane e, em alguns raros momentos, o próprio Conrad. Faço o favor de partir para algo que nada tem que ver com descuidos, a saber, um trecho da Rime of the Ancient Mariner, do Coleridge, em que o Albatroz dá início a sua singela vingança (a íntegra pode ser encontrada com facilidade na web):

 "Fanny," Baltimore Saturday Visiter, May 18, 1833
"Fanny," Baltimore Saturday Visiter, May 18, 1833
 Mais um para os relaxados, ou pelo menos para os que gostariam de relaxar numa vinícola no interior da França. Max Skinner (Russell Crowe) é um banker de sucesso forçado a fazer uma visitinha a terras francesas para dar cabo dos bens de seu recém-falecido tio. O frenesi da vida de um capitalista quase inescrupuloso dá lugar, gradativamente, ao sossego do campo, do vinho e (não exatamente sossego, mas vá lá) das francesas. Destaque para o nome da musa do filme: Fanny Chenal (Marion Cotillard). Lembram-se da Fanny de Edgar Poe?
Mais um para os relaxados, ou pelo menos para os que gostariam de relaxar numa vinícola no interior da França. Max Skinner (Russell Crowe) é um banker de sucesso forçado a fazer uma visitinha a terras francesas para dar cabo dos bens de seu recém-falecido tio. O frenesi da vida de um capitalista quase inescrupuloso dá lugar, gradativamente, ao sossego do campo, do vinho e (não exatamente sossego, mas vá lá) das francesas. Destaque para o nome da musa do filme: Fanny Chenal (Marion Cotillard). Lembram-se da Fanny de Edgar Poe?